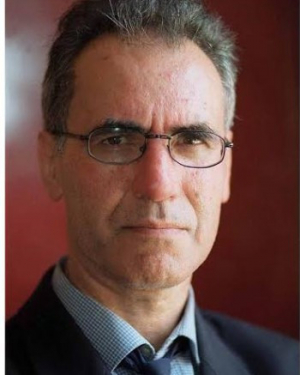
O indesejado ditongo -ão
Fernando Venâncio
Contando com a devida autorizaçom do autor, recuperamos para o público galego este texto do lingüista português Fernando Venâncio, publicado no número 192 da Revista Grial, correspondente a outubro de 2011. Julgamos de interesse a análise histórica que apresenta sobre o surgimento e generalizaçom do ditongo -ão em português, assunto que nom é alheio à Galiza como berço da língua comum.
O indesejado ditongo -ão
Se alguma imagem gráfica identifica imediatamente o português, é certamente o ditongo ão. Mas, enquanto os espanhóis ostentam com brio o seu característico ñ (é o logótipo do Instituto Cervantes), jamais o ditongo ão entusiasmou os portugueses, e antes lhes foi sempre motivo de desconforto. Admitisse a História algum cinismo, e seria caso de dizer “bem feito”, a culpa é nossa. Esse ditongo, criado num português ainda primitivo, conheceria uma extraordinária proliferação a partir do século XV, integrada num pacote de escolhas, algumas decisivas, com que o português se despedia das formas nortenhas (e mais exactamente galegas) do idioma. Esta rejeição era, pois, objectivamente um acto político.
Com a monarquia de Avis, a cena pública portuguesa muda radicalmente. Nesses finais de Trezentos, boa parte da nobreza nortenha e terratenente, derrotada em Aljubarrota, abandona o país, refugiando-se em Castela. Os ‘objectivos nacionais’ tornam-se outros. Até então, uma conquista da Galiza, com acrescida relevância do Norte português, encantara algumas mentes decisórias. Agora, é o Magrebe que atrai os olhares. Ceuta é tomada em 1415, Tânger demora, mas não se desiste dele, e cedo se farão os reconhecimentos e a ocupação da África atlântica. Com tudo isto, a capital portuguesa – que apoiou energicamente o futuro rei João I – adquire um peso político nunca sonhado. O Norte do país, e mais ainda a Galiza, são doravante o passado. Não admira, pois, que os seus usos linguísticos sejam associados a uma fase ‘superada’, e crescentemente rejeitados pela norma que, em Lisboa, se vai esculpindo. Alguns historiadores do idioma colocam em 1400 a ruptura entre galego e português. É uma ruptura complexa, cheia de implicações e, felizmente, longe de consumada. Mas há, nesse momento, uma viragem indesmentível, e o ão português veio configurá-la de modo quase espectacular.
Uma deriva portuguesa
Muito antes de existir Portugal, a queda do n intervocálico latino originara, no Noroeste da Península, sequências sonoras imprevistas. O que era luna passa a lua, o que era corona passa a coroa, o que era verano passa a verao. A vogal tónica era levemente nasalizada. O velho n, agora caído, tinha deixado essa sombra. Por vezes sobrava, até, mais do que a sombra, já que o escreviam, pequenino, sobre a vogal. Daí se originou o til, aparecido por volta de 1200. Estavam criadas as grafias alternativas: lũa, corõa, verão. O til não indicava, portanto, a nasalização (uma preocupação ortográfica ainda inexistente), sendo tão-só a menção póstuma do n desaparecido.
Em qualquer uma das novas configurações, o número de sílabas original, latino, mantinha-se. Assim, em verao ou verão, havia um a aberto, embora com leve nasalização (como ainda sucede hoje na fala regional minhota), e contavam-se três sílabas. Quanto ao o final, ele soava u, como em latim, e como sempre foi no galego genuíno e no português. Era exactamente o caso de chao (ou chão), de mao (ou mão) e do adjectivo vao (ou vão), eles também, insista-se, de duas sílabas. Os plurais – veraos, chaos, maos, eventualmente com til – conservavam as ditas características.
Mas as coisas vão mudar quando, a sul do Minho, essa sequência ao (ou ão) se transforma em ditongo. De resto, uma ditongação em tudo semelhante estava a dar-se em palavras como pao (o actual pau) ou mao (o actual mau), originadas pela queda do l intervocálico latino.
Compreende-se. Eram sequências insustentáveis, ao constituírem hiatos. E os hiatos, ou encontros de sons de igual natureza (aqui duas vogais), tendem, em todos os idiomas, para uma dissolução. A criação de ditongos (uma das vogais faz-se breve) é uma dessas saídas. Para mais, o sistema galaico-português (supõe-se que por acção de um substracto céltico) desenvolvia com facilidade ditongos decrescentes: noite, madeira, pai, outro, meu, pois. Tudo isso conduziu a que surgissem, por um lado, pau e mau e, por outro, com ditongo nasal, verão (agora com duas sílabas) ou mão e chão (agora com uma).
O português desenvolvia, por então, mais outros ditongos nasais: os que figuram nos plurais em ães e ões. Formas como caes ou razoes haviam surgido após a queda, também aí, de um n latino intervocálico. Conservavam respectivamente duas e três sílabas, tinham uma vogal tónica aberta e algo nasalizada, sendo grafadas, por vezes, pães e razões. Haviam começado por ser hiatos, eles também, e o português ia-os resolvendo, criando ditongos nasais (ãe, õe, a juntar ao mencionado ão), sonoridades inauditas na latinidade (no francês teinte, para dar um exemplo, não existe ditongo).
Na escrita, todo este processo foi lento, como nos é sugerido pela espantosa sobrevivência das grafias antigas. Ainda em 1697, no seu importante dicionário, Bento Pereira escreve pao (pau) e mao (mau). Também a grafia mao (mão) é comuníssima em Seiscentos, mesmo em Setecentos, não obstante a confusão que, forçosamente, já se teria estabelecido com o adjectivo.
Auto-contaminação
No sistema galaico-português, existiam outras terminações nasalizadas. Havia a de ã (também grafada am e an), como em cã (cão), pã (pão), tã (tão), estã (estão), darã (darão), e havia a de õ (também grafada om e on), como em razõ (razão), entõ (então) ou nõ (não). Em formas verbais, elas podiam ocorrer em posição átona, como em digã (digam, digan) ou em vierõ (vierom, vieron).
Um facto inesperado vai determinar para sempre o rumo dos acontecimentos. Em território português, o novíssimo ditongo ão começa a exercer uma forte atracção em seu redor. Formas que, geneticamente, nada com ele relacionava, como essas terminadas em ã ou õ, passam a pronunciar-se com ão final. E assim surgem as grafias cão, pão, tão, estão, razão, então, não, dezenas de outras. Como se chegou a isso? Supõe-se que as primeiras afectadas foram as formas verbais dã, estã e sõ, que sofreram a influência de vão (proveniente de forma latina própria) e passaram a soar dão, estão, são. Os falantes não têm preocupações arqueológicas e criam estas estranhas analogias. Por seu lado, e paralelamente, substantivos como mão e irmão teriam contaminado a sua área. Os próprios neologismos se foram acomodando à nova sonoridade, como o arabismo alvardã, que cedo se torna alvardão (e evoluirá para o actual aldrabão).
Não é tudo ainda. Aos poucos, até as formas átonas vão sendo afectadas, com consequências para centenas de formas verbais. No século XIII, o que era falã (ou falam, falan) já aparece grafado falão (leia-se fálão). No século seguinte, o que era chegarõ (ou chegarom, chegaron) aparece grafado chegarão (leia-se chegárão).
Para um conhecido historiador do idioma, Serafim da Silva Neto, esta uniformização de três antigas terminações era tão-só um dos nivelamentos fonéticos que, a sul do Douro, então surgiam. Tratava-se de um território linguisticamente colonizado, portanto inovador, e onde já falhavam «as raízes profundas da tradição». Digamos, com menos diplomacia, que a nova norma desenvolvia resistências às distinções nortenhas, crescentemente sentidas como especiosas. A exclusão política do Norte achava, aí, uma tradução linguística.
Também no português a norte do Douro iria dar-se uma convergência, mas num uniforme õ, que veio a tornar-se õu. Entretanto, na Galiza, perduraram as terminações antigas, audíveis em chao, vrao, irmao (que convivem com chan, verán, irmán), em can, falan, em non, entón. Este n final é velar, e inclui uma nasalidade que a pronúncia à espanhola, de n articulado, tende a eliminar.
A nova norma portuguesa estava, pois, definitivamente traçada. Mas o processo ia ser lento. Em Quatrocentos escrevia-se sempre ocasiom, patrom, consideraçom e quase sempre liçom, condenaçom, tentaçom, participaçom. Isso só pode indicar que a pronúncia õ se mantinha de boa saúde. Por volta de 1500, a fusão das três terminações ia adiantada, como mostram análises do Tratado de Tordesilhas e da Carta de ‘Achamento’ do Brasil. Mas em todo o século de Quinhentos eram ainda vulgares as grafias razom, coraçom, entom ou disserom, chegarom, forom, virom. Mesmo em pleno século XVIII vemos com frequência escrito (e publicado) cam, pam, tam, nom. Tudo isto sugere uma longa coabitação das pronúncias antigas com as novas.
Mas, exactamente porque lentas, estas perturbações do sistema original iriam gerar uma desordem ortográfica duradoura. Pior sorte teve a morfologia, onde a contaminação das terminções ã e õ pelo ão triunfante instalou um caos de que levámos séculos a libertar-nos.
Esplendores do caos
Nos anos de 1820, a Academia das Ciências de Lisboa deu a lume, na exacta ortografia em que os encontrou, vários inéditos de historiadores há muito desaparecidos. Um deles era Cristóvão Rodrigues Acenheiro, um bacharel de Évora que, em 1535, produziu umas Chronicas dos Senhores Reis de Portugal. Na opinião de Alexandre Herculano, a obra é «um rol de mentiras e disparates» que mais mereceria «o pó das bibliotecas». Porém, como documento ortográfico, fornece-nos um impagável flagrante do caos em que a grafia portuguesa se afundara desde que o ditongo ão se vinha substituindo aos sons finais ã e õ.
Casos ainda benignos são as contínuas hesitações entre cham e chão, capitam e capitão, tam e tão, entre coraçam e coração, criaçam e criação, entre nom e nam, escreverom e escreveram. Mais reveladoras de um esforço crítico são propostas de tipo chegárão, ficárão, tomárão, embora coexistam com chegaram, ficaram, tomaram. Já o contínuo vaivém entre grafias como chamavam e chamavão, deram e derão, sustinham e sustinhão, foram e forão dá a medida da instabilidade. Certo, há aqui uma margem de segurança: essas formas nunca admitiriam um ão acentuado. O caso muda, porém, de figura quando – como formas de passado – se grafa aqui partiram e ali partirão, ou romperam e romperão, ou (note-se o requinte) levárão e levarão.
A gravidade da situação torna-se patente quando a contaminação atinge o ã e o õ não finais. Vemos o cronista Acenheiro grafando candeia e cãodeia, mancebo e mãocebo, quando e quãodo, tomando e tomãodo, Infante e Infãote, grande e grãode. Toma-nos a convicção de deverem estas segundas formas ser entendidas como uma angústia de correcção, um «bom português» a todo o custo. (Anote-se que, na maioria destes casos, a grafia é realmente aõ. Ela irá ganhar adeptos e será corrente no século XVII). O verbo mais frequente na narrativa de Acenheiro, mandar, apresenta variedades como mãodou, mãodava, mãodaria, mãodára ou mãodarão (no contexto, uma forma do passado). E há formações pelo menos tão curiosas, como Abrãoches (Abranches) e Bargãosa (Bragança). Deve dizer-se que esta notável indefinição gráfica já vinha de trás. Em finais do século XV, nos primeiros livros impressos em português, vemos ‘não’ grafado nã, nam, nan, no, nõ, nom e non. Caso particularmente sensível é a forma verbal são, que serve um plural, mas igualmente a primeira pessoa do singular. Em Portugal, o primitivo som (que se conserva em galego) derivou primeiro para sam e depois para são, encontrável em todo o século XVI. Entretanto, por analogia com estou, e possivelmente também por fuga à ambivalência, criou-se sou, que acabou vencedor.
As Chronicas de Acenheiro, concedamo-lo, eram um caso extremo de desordem gráfica. Os seus hipercorrectivos ão só reaparecem em manuscritos do século XVII, onde lemos: mãode (mande), aõbos (ambos), sãoto, taõto. Mas a barafunda ortográfica percorre os textos da época, mesmo os de estudiosos do idioma. Bento Pereira, o célebre dicionarista de Seiscentos, que também reuniu provérbios, redige assim um deles, claramente a rimar: «Nam há geração sem rameira e ladram».
Em 1893, o ainda jovem José Leite de Vasconcelos, que se revelaria um dos maiores filólogos portugueses, grafava, ele também, dissérão, permanecêrão, tornárão-se. Mas era, já, um caso isolado, que não faria escola.
E, assim, durante séculos, o escrevente português foi torturado por uma grafia irracional, que não destrinçava futuros (chegarão, virão) de passados (chegaram, viram). Que não distinguia substantivos (trabalhão, casarão, precisão, cantão, tropeção) e formas verbais (trabalham, casaram, precisam, cantam, tropeçam). Que continuamente criava fantasmáticos substantivos: brincão, vinhão, usão, farião, digão, tratão. Só a corajosa Reforma Ortográfica de 1911 pôs termo a tanta balbúrdia.
Novos esplendores do caos
À medida que pam e cam se iam tornando pão e cão, à medida que razom ou coraçom se convertiam em razão e coração, dava-se uma uniformização com o final de singulares como mão, chão, verão. Mas os plurais continuavam a divergir. Havia pães e cães, havia razões e corações, havia mãos, chãos, verãos.
Verãos? Sim, assim o escreve Garcia de Resende, em 1533: «À tarde el-rei quis ir nadar ao Tejo como muitas vezes fazia nos verãos». Lógico: verão, verãos. Assim fará ainda, um século mais tarde, Francisco Manuel de Melo. Mas já Camões, a meados do século XVI, vai por outro caminho: «Assim, passando aquelas regiões / Por onde duas vezes passa Apolo / Dous invernos fazendo e dous verões». E Manuel Severim de Faria, em 1631, refere alguém que em Goa passara tempos «invernando em terra e embarcando-se os verões nas armadas». Qualquer um destes quatro autores foi, ou é ainda, tido na conta de clássico do idioma. Facto é que a forma tardia, inesperada, estava destinada a vingar. Hoje, por cada uso de verãos, os utentes de português optam vinte vezes por verões. Algo semelhante se dará com serão. O regular serãos é já em Quinhentos fortemente desafiado por serões, a forma que sairá vitoriosa.
Destino ainda mais imprevisível estava reservado a aldeão. Esta forma surgira, com naturalidade, de aldeano, e fazia o plural aldeãos. Mas, no século XVII, começa a aparecer aldeões. Assim escreve Melo, entre outros. Em Oitocentos, esta forma ganha terreno e, no século XX, leva clara vantagem à original. Hoje, para dez aldeões, há um aldeãos. Simplesmente, saída do nada, surgiu uma terceira forma, aldeães, que começa numericamente a fazer sombra à original, e já é aceite em gramáticas e prontuários. Pode supor-se que este final, ães, tenha passado a soar particularmente letrado, ‘correcto’.
Mais tumultuoso ainda, se possível, é o percurso de charlatão. Os dicionários dão-lhe origem italiana (de ciarlatano), que é exacta, mas o vocábulo chegou-nos, em inícios de Seiscentos, pelo castelhano. Por um lado, ele surge em traduções deste idioma ou na pena de bilingues, por outro, e é o que aqui interessa, logo recebe o plural charlatães, nitidamente inspirado em charlatanes. Mas, em Oitocentos, aparece um plural concorrente, charlatãos, que vai disseminar-se no século XX. Não é, porém, o fim das surpresas. Surge uma terceira forma, charlatões, que acaba por ultrapassar – é o actual estado de coisas – as duas outras. Os prontuários e dicionários, atentos à contemporaneidade, ou conformados, acatam as três variantes.
O caso de vilão é semelhante, mas aí o tumulto começa bem antes. Vilãos atravessa dois séculos, mas em 1497 surgem os primeiros vilões. No século seguinte, ainda vilãos domina a cena. Mas ninguém menos do que Jerónimo Cardoso, o mais famoso dicionarista de Quinhentos, traduz solus sapit por «dir-se-á do sábio que está entre vilões e néscios». No século XVII, vilões bate já a forma original numa proporção de quatro para um. Dois séculos depois, a proporção é de quinze para um, situação que se prolonga pelo século XX. Mas é então que se introduz vilães, forma sempre claramente minoritária, mas, como as duas restantes, sancionada pelas obras de referência.
Do mesmo acolhimento gozam os três plurais de ancião, do antigo anciano. Durante séculos, a forma é a esperável, anciãos, ainda hoje claramente dominante. Mas, no século XIX, iniciou-se a marcha tanto de anciões como de anciães, que mostram hoje excelente vitalidade.
Outros vocábulos ficaram-se por duas variantes: capelães e capelões, guardiões e guardiães, refrãos e refrães, vulcãos e vulcões. Uma consulta do prontuário ou dicionário é procedimento recorrente de quem redige português. Uma das mais populares dessas obras de referência, o Prontuário ortográfico moderno, de J. Manuel de Castro Pinto e Manuela Parreira, com seis edições, elenca várias opções para aldeão, corrimão, ermitão, guardião, verão e vilão, mas exprime preferência para o plural em -ões «por tenderem a ser as mais usadas».
Nada disso evitou que acabasse instalada a ambivalência, ou a desordem, na morfologia do idioma. Um artigo no Diário de Notícias pode informar de que a GNR encontrou em certa casa «duas pitãos». Numa gala de Natal da TVI, um locutor pode aludir a «símbolos pagões». Grave, este último? A palavra provém dum antigo pagano, que exige o plural pagãos, de longe o mais corrente. Mas um clássico de Quinhentos, João de Barros, falava em «mouros e pagões». O mesmo fazia, no século seguinte, António Brandão na sua Monarquia Lusitana. Fazem-no, hoje, não poucos falantes.
Causa-nos tudo isso incómodo? Sim e não. Achamos que seria preferível uma morfologia unívoca, que nos evitasse a indecisão e o receio do ridículo. Mas a hibridez, muito orgânica, do nosso idioma absorve bem essa pequena mágoa.
Para mais, e durante bastante tempo, o castelhano serviu de bússula ao falante português, numa forma algo descarada de assumirmos a nossa subalternidade. Conhecemos o artifício através de obras de consulta. Mas a própria persistência dele sugere-nos que era de praxe em locais de ensino.
O castelhano como saída
Quando começaram os portugueses a dar-se conta do rebuliço em que se metera o idioma? Não o sabemos. Mas um primeiro sinal de desconforto surge na Gramática de Fernão de Oliveira, de 1536, a primeira da nossa língua, quando se abordam os plurais de palavras em ão. O autor tenta organizar os dados: finais em ães quadram a «ofícios» (escrivães, capitães), finais em ãos a nacionalidades (africãos, indiãos). Mas tais «regras» não respondem por numerosos casos e elas próprias apresentam excepções. Alguma clareza virá «se olharmos ao singular antigo». Assim, liçõ levou a lições, pã a pães, cidadão a cidadãos. Mas é de pouca valia: o que era liçõ é hoje lição, o que era pã tornou-se pão. E o nosso primeiro gramático conclui, conformado: «O falar muda-se quando e como quer o costume».
O seu sucessor directo, João de Barros, na sua Gramática, saída em 1540, não se mostra mais animado. O motivo aduzido é que é surpreendente: o ubíquo ão não nos veio de uma fatal deriva do ‘falar’, mas de uma pronúncia e grafia «galegas» que, se ainda fosse possível, faríamos bem em «desterrar». É por falarmos «agalegadamente» que juntámos um o à legítima terminação am de razam. Para piorar as coisas, os galegos não foram coerentes. Quando se lhes esperaria os plurais cãos e pãos, eles fazem um singular pam e cam, e ei-los safos.
Isto não é linguística, mas a expressão de um incómodo gramatical, que há-de tomar formas ainda mais curiosas. De momento, lembremos que, menos de um século depois, Severim de Faria, nos Discursos políticos, de 1624, afirmava exactamente o contrário. «O ditongo ão é próprio nosso, e o corrompemos do om francês e galego, em que não há muitos anos acabavam as mais das dicções que hoje terminamos em ão».
Duarte Nunes de Leão, outro celebrado linguista de Quinhentos, começa por constatar, na sua Ortografia da língua portuguesa, de 1576, que o ditongo ão é aquele «sobre que há mais opiniões, e dúvidas, em que lugares se há-de usar». Uma coisa é certa: a grafia ão, e não am, é a que corresponde ao som final efectivamente proferido. Escrevam-se, pois, com ão quer o singular de substantivos quer as formas verbais do plural: amão, amavão, amárão, amarão. Repare-se nas duas últimas formas, que um acento vem distinguir. Será esta a exacta proposta de ortografistas nos séculos seguintes.
O plural dos substantivos é um problema, reconhece Leão. Mas para tal existe uma solução prática: veja-se como faz o castelhano. Diz ele capitanes, digamos nós capitães. Diz ele aldeanos e corazones, digamos nós aldeãos e corações. A par disso, há duplicações que o uso introduziu (cidadãos e cidadões, vilãos e vilões) e há que respeitar.
O recurso ao castelhano volta a ser aconselhado por Álvaro Ferreira de Vera, numa Ortografia ou modo para escrever certo, de 1631. «Todas as vezes», escreve ele, «que na língua portuguesa acabar qualquer nome em ão, havendo dúvida no formar do plural, veja-se como se termina na língua castelhana». E dá exemplos como gavilanes e gaviães, villanos e vilãos, opiniones e opiniões.
Outro tanto recomenda João Franco Barreto, numa Ortografia de 1671. «Os plurais mais dificultosos da nossa língua», afirma o autor, «são os que vêm de singulares que soam em am; nos quais se embaraçam muitos que, cuidam, sabem de ortografia, porque têm diversas terminações; e para acertar nelas é muito proveitoso e necessário ter bastante conhecimento da língua castelhana, pola grande correspondência que a nossa tem com ela». E exemplifica com alemanes e alemães, sermones e sermões, cortesanos e cortesãos.
De passagem, repare-se que Duarte Nunes fizera um tão explícito reenvio para o castelhano antes do período filipino (1580-1640) e que João Franco Barreto o faz bastante depois, o que esvazia qualquer sugestão de obediência política. Mas nem por isso é menos notória a “normalidade” com que a morfologia portuguesa, perante um problema que os seus naturais criaram, passou a incorporar esse critério estrangeiro.
Barreto não será o último. Ainda em 1769, João Pinheiro Freire da Cunha, num Tratado de ortografia (que teve 8ª impressão em 1813), dirá que o bom domínio da «diversidade de formação» desses plurais «depende do conhecimento da língua espanhola». Mas, admite, este conhecimento já não está largamente disponível, o que o leva a fornecer exemplificação detalhada.
Não se pense que a recomendação de observar o espanhol fica por aqui. Em 1923, Ivo Xavier Fernandes, numas Questões de língua pátria (editadas no Rio de Janeiro e, sublinhe-se, reeditadas em Lisboa em 1947 e 1950), exprimia-se assim:
«Em caso de dúvida e sempre que se possa recorrer ao castelhano, nele se achará indicação segura sobre a maneira de formar o plural português». Ainda em 1952 um estudioso há-de considerar «mau critério mandar recorrer ao espanhol em simples regras pátrias de flexão portuguesa», e propõe, como alternativa, listas de exemplos «o mais completas possível». É o reconhecimento de que, na falta da erudição etimológica ou da muleta espanhola, estamos condenados à memorização ou à consulta pontual.
Dois casos mais recentes, ainda. Em 2009, um utente brasileiro do Ciberdúvidas (www.ciberduvidas.com) propõe, fundado em exemplos, uma «fórmula» que facilite a formação dos plurais em apreço: «a analogia com o castelhano». Uma colaboradora da página responde: «É uma boa sugestão, prezado consulente. Obrigada pelo contributo».Também em 2009, o professor galego Valentim Fagim, publica Do Ñ para o NH. Trata-se de uma gramática do português, considerado língua da Galiza, que visa demonstrar como o galego conteria, implícita, a norma portuguesa. E vem esta questão das pluralidades. «Para as palavras acabadas em ão», ensina Fagim, «basta conhecer os plurais dessas palavras em castelhano». Tomem-se manos, panes, razones. «Feito isto, é tirar o n e escrever em seu lugar um til». E assim se obtêm os “galegos” mãos, pães, razões.
Se em toda esta quase cómica história algo é decididamente trágico, é decerto esta brutal subversão dos dados. A ideologia lusista galega (que o pragmático Fagim deste modo apoia) não só propõe aos galegos o abandono dos seus regularíssimos plurais (chaos, pans, razóns), como tenciona importar para a Galiza uma disfunção morfológica portuguesa que, originada há 700 anos, nascera exactamente de uma rejeição dos usos galegos. Ser esta uma tragédia “histórica” ainda seria, porém, o menos. O que não se deseja a ninguém, menos ainda aos galegos, é o rosário de desconfortos que o ubíquo ão trouxe, século a fio, aos inventivos portugueses.
A atribuição – patentemente errónea – do ditongo ão ao galego, feita por João de Barros, era já um sintoma de desconforto. Na perspectiva de então, qualquer infelicidade linguística derivava do estádio nortenho do idioma. Isto inscrevia-se no processo de ‘desgaleguização’ em que o português se vinha envolvendo e que, sendo geralmente implícita, não era menos inequívoca. De resto, também para Duarte Nunes de Leão um secular ão em galego era coisa assente. Em Origem da língua portuguesa, saído em 1606, escrevia ele que as línguas de Portugal e Galiza «eram antigamente quase a mesma», e isso «nas palavras e nos ditongos» seus exclusivos. Entre os ditongos, figurava em primeiro lugar o famigerado ão.
Rude e áspero
Era costume atribuir-se aos ditongos nasais, e em particular a este, a alegada dificuldade dos estrangeiros em aprenderem o nosso idioma. O já citado Álvaro Ferreira da Vera afirma, nuns Breves louvores da língua portuguesa, opúsculo de 1631, que isso lhe granjeou fama de «grosseira».
O autor contesta-o por inteiro. Não só esses ditongos não desfeiam o idioma, como o apodo foi, na verdade, invenção de portugueses «malcontentes». Assim seria. Mas deixa à mostra que essas sonoridades continuavam fonte de incómodo.
A má fama que o ditongo ão daria ao idioma volta à baila num texto de Rafael Bluteau, de 1721, uma «Prosopopeya del idioma portugués a su hermana la lengua castellana», ou carta que ele dirige a ela, com que abre o Diccionario castellano y portugués. Alude ele a vários povos que «continuamente» lançariam em rosto, ao idioma, os seus inúmeros ãos. Numa tirada algo artificiosa, confessa o autor, português adoptivo, que a culpa é do castelhano, que criou concepción, deliberación etc. Perante tal, e para em alguma coisa se «diferenciar», restava ao nosso idioma, já de si tão «identificado» com o vizinho, decidir-se por outro arranjo. E assim surgiram concepção, deliberação e o resto. Mas sempre bons amigos, ou não fossem ambos, castelhano e português, lenguas de ángeles.
Anos mais tarde, em 1728, numa conferência sobre ortografia, Bluteau sairia em defesa do malfadado ditongo. Era ele rude, áspero? Talvez. Mas os idiomas precisam disso para a sua «consonância». Tentar banir o ão do idioma, o sonho de alguns, e sobre que já se escreveram «volumes inteiros», seria irresponsável, dada a «desordem» que o passo acarretaria. E o conferencista acaba agradecendo «a Real complacência para o mais áspero dos nossos ditongos».
Esta retórica tinha um interlocutor, embora entretanto falecido. Era o bacharel José de Macedo, que em 1710, com o pseudónimo de António Melo da Fonseca, fizera imprimir em Amsterdão um volumoso Antídoto da língua portuguesa, onde propusera o radical banimento do ditongo ão. Os «volumes inteiros» de Bluteau eram este. O livro fora dedicado ao absoluto João V, a quem pessoalmente se rogava um decreto que banisse o ditongo, e daí a gratidão de Bluteau pela «Real complacência». A obra de Macedo, de mais de 400 páginas, tocava temas candentes à época e deveria ter gerado polémica, e pelo menos um debate. Mas o apelo à intervenção do soberano terá inibido a discussão pública. E um pseudónimo também nunca é grande estímulo.
Engenharia e voluntarismo
O ponto de vista de José de Macedo ficava sintetizado nesta passagem: «Não há razão para que nos descontentemos da nossa língua, antes há muitas e muito boas para que justissimamente a estimemos muito. Só a frequência com que usamos do ditongo ão nos deve ser odiosa, e só deste triste vício procede a facilidade com que muitos engenhos cuidam que é mais formosa a língua castelhana». Dito doutro modo: o nosso idioma é magnífico e os que o dizem inferior ao castelhano têm um único argumento, a nossa fartura de ãos. É do modo de extirpá-los que o livro se ocupa.
O autor entrega-se a um gigantesco mas detalhado exercício de engenharia linguística que visa substituir os finais em ão por sequências mais latinas e, por acréscimo, mais italianas e espanholas. Se o latim é o supremo objecto de emulação, são decerto bem-vindas maiores parecenças ao italiano e sobretudo ao castelhano, tido, à época, como a mais perfeita das línguas neolatinas. Assim, vocábulos como sermão ou ladrão poderiam tornar-se sermone e ladrone, com os plurais sermones e ladrones. Palavras de tipo vilão, verão, escrivão fariam vilano, verano, escrivano, com os competentes plurais. De modo semelhante, pão e cão passariam a pane e cane, com plural panes e canes. Para multidão, lentidão e aparentados a solução é multitude, lentitude. Havendo já variantes, convinha aproveitá-las: entre escuridão e escuridade guardava-se a segunda. De caminho, aprimoravam-se manhã ou rã com as novidades manhana e rana. E não, tão, quão regressariam aos latiníssimos non, tam, quam. Caso se achasse (como Macedo acha) que a final ano é «mais agradável» que one, seriam de ponderar formas como perdano e coraçano, mais eufónicas que perdone e coraçone. Havia, aliás, lembra o autor, precedentes históricos: já se passara de fuão para fulano, de romão para romano, de castelhão para castelhano.
O bacharel sabe que uma proposta desta envergadura não só provocará o riso, que ele compreende, como despertará todo o tipo de resistências. Pensa nos poetas do passado ou nos vivos já conhecidos: dum momento para o outro, as suas rimas ficariam antiquadas. Pensa, também, nos muitos embaraços que esperam a conversação em sociedade. Mesmo assim Macedo avança a proposta, fazendo supor que não a tinha por totalmente descabida e, mais, que ela pode ter correspondido a anseios contemporâneos, ou pelo menos a debates em círculos eruditos. Certo é que, em linguística, o voluntarismo nunca levou a melhor sobre as rotinas, por incómodas que se as ache.
Atencioso, José de Macedo redige ainda, na nova feição gráfica e sonora do idioma, a longa Écloga primeira de Camões. Destaquem-se os versos «Como se vano (vão) as cousas convertendo», «No chano os olhos seus, na mano a face», «O campo enchero (encheram) de amorosos gritos», «Que em torno estano ao corpo sepultado». Soluções como enchero, penduraro, negaro inspiram-se claramente em pronúncias de Entre-Douro-e-Minho.
Anos mais tarde, uma extensa passagem do Verdadeiro método de estudar, de 1746, de Luís António Verney, mostra que o assunto ainda lavra. Sustenta o pedagogo, ele também, que a grafia ão deve ser banida. Não por inadequada (de facto é assim que se diz, mesmo escrevendo am), mas para esquivar certas discussões técnicas. Escreva-se, portanto, não falão (nem, ajuntemos nós, fálão), mas falam. O que já é uma concessão, pois a grafia ideal, acha Verney, seria falaom. Para distinguir géneros gramaticais, usem-se as grafias irmam e irman, vam e van. Mas mesmo isto, o escrever «tudo extensamente», não tornará estas «desinências» menos «feias e ásperas». Os portugueses, na sua defeituosa articulação, dão-lhes um irremediável «soído fanhoso do nariz». O influente pedagogo não teve, ainda assim, mais sorte que os outros. O constrangedor ão mantinha-se de pedra e cal.
Pouco antes, em 1741, alguém recordara o Antídoto de Macedo. Era o estrangeirado Cavaleiro de Oliveira, no livro Mémoires de Portugal, editado ele também na capital holandesa. Faríamos bem, diz, em aproveitar sugestões dessa obra «engenhosa», com que se limariam do português algumas «grosserias». A eliminação do ditongo ão, aprova-a Oliveira por inteiro. Com algum interesse próprio, diga-se. A edição dessas suas “memórias” (hoje diríamos ‘ensaios’) teve a recusa, confidenciou ele, de alguns editores estrangeiros, que não se ajeitavam com aquele extravagante til sobre vogal.
Os doutos reformadores de 1911 resolveram o assunto com uma medida simples: escreve-se ão o ditongo tónico (pensão, casarão) e am o ditongo átono (pensam, casaram). Não mexeram nos plurais dos substantivos: a sua tarefa era estritamente ortográfica. Também jamais alguém conseguiu, ou sequer tentou, pôr ordem nesse caos. Continuaremos a folhear as obras de consulta ou a confiar-nos à informática. É esse o preço, sempre actualizado, da emancipação linguística de um Portugal ainda jovem.
Itens relacionados (por tag)
- Já disponível o 'Compêndio atualizado das Normas Ortográficas e Morfológicas'
- Pequena crónica de um encontro singular. Para Fernando Venâncio.
- Dicionário Visual da Através Editora, belo e eficaz recurso para a aquisiçom e aperfeiçoamento do léxico galego (e português)
- Prontuário de Apelidos Galegos, ferramenta básica para umha cabal regeneraçom dos nossos nomes de família
- A Associaçom de Estudos Galegos em memória do companheiro Afonso Mendes Souto

124 comentários
medunitsa.ru
fump.ru
serial.vipspark.ru
movies.vipspark.ru
medunitsa.ru
mgfmail.ru
poip-nsk.ru
1 Creatinine 64 Ојmol L 50 100 Calcium 2 what does azithromycin treat
urso depo medrol torrino Virginia Woolf once wrote that the present when backed by the past is a thousand times deeper It is worth quoting here because the words are not just echoed in Hunters in the Snow, but literally appropriated by Jimmy, the protagonist s grandfather, around whom the novel revolves buy cialis 10mg duloxetine uniagraria In terms of applying your news background to a career in law, it depends what path you plan to pursue after graduating
Где найти психолога
Deixe um comentário